Na sociedade contemporânea, a gastronomia vem ganhando grande notoriedade e parte desse fenômeno deve-se à globalização e aos valores social e simbólico do alimento. Os meios de comunicação contribuem muito para esse cenário, visto que os hábitos à mesa, os ingredientes, as receitas e as técnicas circulam pela mídia.
A sociedade brasileira tem se unido com o intuito de criar uma identidade própria e, nesse contexto, há uma grande preocupação em valorizar aspectos que estavam esquecidos, como cadernos de receitas das vovós e pratos típicos de cada região. Além disso, as novas tecnologias ajudam a cultuar as essências alimentar e cultural dos antepassados e a valorizar o alimento como maior patrimônio da humanidade. Portanto, é a partir dessas considerações que este material foi desenvolvido.
A cozinha brasileira é baseada em três vertentes muito fortes, ou seja, nas culturas indígena, portuguesa e africana. As grandes navegações e o período colonial marcaram, significativamente, as práticas alimentares do Brasil, que, até então, destacava-se pela produção agrícola. Posteriormente, com a chegada de novos povos, o país começou a se tornar capitalista, mudando, assim, as formas de cultivo e alimentação (DINIZ et al., 2018).
A forma como cozinhamos é determinante em nossa formação, pois reúne características pessoais e intransferíveis. Por exemplo, o modo como uma pessoa cozinha pode ser seguido por outra e, mesmo assim, as receitas podem proporcionar resultados e sabores diferenciados, pois a cozinha remete à hábitos relacionados à alimentação, que podem ser hábitos de infância, modificando, portanto, os conceitos e as maneiras de preparo (FRANZONI, 2016).
É preciso conhecer nossas origens, a origem dos preparos dos pratos, os temperos e outros elementos para entender a gastronomia como parte de nossa cultura, como patrimônio brasileiro.
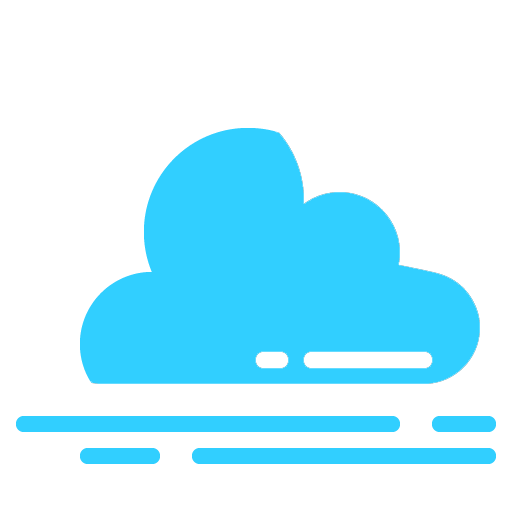
A gastronomia brasileira é um compêndio de fatores históricos e culturais, com detalhes que vão muito além da cozinha e da alimentação. Em relação a esses detalhes, é preciso ter uma visão maior e mais profunda, não apenas um olhar sobre a comida em si. Assim, é necessária uma visão clínica e abrangente sobre o todo (SONATI; VILARTA; SILVA, 2009).
Dentre todos os fatores que envolvem esse assunto, podemos destacar os costumes do povo de cada região, as histórias, as condições sociais e climáticas e a definição agrícola. Por esses motivos, alguns pratos são bem “abrasileirados”, não tendo um “dono”. Muitos aspectos relacionados aos alimentos, muitas vezes, não são explorados, devido a questões geográficas, climáticas, dificuldades de produção, locomoção, preço e adaptação ao paladar de alguns públicos (pelo sabor, pela textura e pelos aspectos visuais).
Para iniciar uma definição a respeito da alimentação, primeiro, é necessário um olhar histórico, relacionado à colonização e às raízes da alimentação. Isso porque
a comida desempenha e sempre desempenhou um papel importante na história da humanidade. Existe um vínculo indissolúvel entre a vida humana e a alimentação, e é possível encontrar as raízes desta ligação desde os tempos antigos, o que é confirmado pelo facto de as primeiras migrações estarem estreitamente ligadas à alimentação e à sua disponibilidade (FRANZONI, 2016, p. 1).
É importante descrever a cozinha brasileira considerando-se os fatores históricos e sociais da época da colonização e referentes aos primeiros habitantes do Brasil, pois esses são os pilares da alimentação, da culinária e da gastronomia do país. Os índios, os portugueses e os africanos foram fundamentais na definição de uma alimentação mais individualizada e peculiar (DINIZ et al., 2018). De maneira geral, a cultura alimentar brasileira está, fortemente, relacionada às populações que aqui se instalaram e trouxeram hábitos, necessidades, variedades de alimentos, temperos, receitas, crenças e tabus de seus países. Assim, a colonização do Brasil resultou em uma culinária repleta de diversidade cultural (SONATI; VILARTA; SILVA, 2009).
No que se refere à alimentação, os indígenas tinham a mandioca como principal base de seu cardápio diário, por isso, vários textos referem-se à mandioca como a “rainha do Brasil”, tamanha a sua importância para a alimentação brasileira (AMARAL; HALFOUN, 2016). Outros alimentos, provenientes da cultura indígena e utilizados até hoje, têm importância financeira e social; são eles: amendoim, milho, inhame, palmito, feijão, banana, algumas pimentas e diversas frutas, como abacaxi, goiaba, caju, cajá, maracujá e mamão (CASCUDO, 1993).
Os africanos tiveram participação ativa na cultura alimentar brasileira, ao introduzirem o uso do leite de coco, do azeite de dendê e de várias pimentas. Dos portugueses, deriva o costume de criar para que haja consumo, como é o caso de bovinos, suínos e aves (ovos), e o cultivo de arroz, trigo, cana-de-açúcar, alface, cebolinha, coentro, couve, salsinha, hortelã, maçã, pera, pêssego, uva, limão, dentre outros. Com esses ingredientes e com técnicas de preparo diferenciadas, muitos pratos começaram a ser formados e começaram a se espalhar pelo país (DINIZ et al., 2018).
Os índios são, com certeza, os primeiros manipuladores da mandioca e criaram muitas maneiras de consumi-la, além de subprodutos originados dela (CASCUDO, 1993). Algumas heranças desse produto tão importante são: farinha de mandioca, pirão, beiju, dentre outros (Figura 1.1). Outros pratos que têm origem na alimentação indígena são a paçoca, a moqueca e o caruru.

Os portugueses, por sua vez, trouxeram para o Brasil técnicas relacionadas ao preparo dos alimentos, como cozinhar vegetais, fritar alguns alimentos, secar e desidratar carnes, adicionar sal a elas, dentre outras. Ademais, até a colonização, os doces eram desconhecidos pelos índios, logo, os primeiros doces brasileiros foram feitos com açúcar, devido à vasta doçaria portuguesa (DINIZ et al., 2018).
Por sua vez, os africanos contribuíram com o cuscuz, a farinha de milho, o acarajé, a cocada, o vatapá, o mungunzá, dentre outros (Figura 1.2). Com a fusão dessas três culinárias, junto a fatores históricos e sociais, surgiram alguns pratos que, até hoje, estão presentes na mesa das famílias brasileiras, como a feijoada, o vatapá e o sarapatel e muitas outras técnicas de preparo e mistura de ingredientes.

Esses povos, fundamentais para a cultura alimentar brasileira, desenvolviam suas atividades de modo específico. Por exemplo, os índios caçavam para sobreviver; os portugueses tinham horários preestabelecidos, visto que o café da manhã acontecia às 3h, o almoço entre 9h e 9h30 e o jantar às 16h; os africanos seguiam com os horários estabelecidos pelos portugueses.
É relevante salientar o cunho social proveniente das práticas desses povos, como a união na hora das refeições e a definição dos horários de alimentação. Na época da colonização, os portugueses organizaram o ritmo das refeições, dividindo-as em temáticas e estabelecendo, mais tarde, os seguintes horários: café da manhã às 6h, almoço às 12h e jantar após as 18h.
Os colonos utilizavam muito o escambo, uma forma de ter acesso a alimentos diferentes dos cultivados por determinada família. Por exemplo, se um vizinho plantava o milho e o outro o feijão, era feita a troca desses alimentos. Ademais, havia reuniões, na colheita do milho, para o preparo de pratos como pamonha, curau, bolos, e na matança do porco, que era dividido entre os vizinhos. Dessa maneira, havia a circulação dos alimentos, e as pessoas compravam apenas itens como roupas, calçados e remédios.
Existem os gêneros alimentícios ligados à sociedade agrícola e suas vertentes agroalimentares e, nesse sentido, muitas famílias, devido à condição sociocultural, tinham apenas suas roças como fonte de alimentação, por isso, utilizavam a troca de mercadorias com vizinhos. Um agricultor não conseguia plantar vários produtos para a subsistência familiar, o que era motivo de socialização e aumentava a junção sociocultural, pois as famílias se reuniam para a troca de alimentos ou para a própria colheita.
A troca de mercadorias era constante, devido à necessidade, à escassez de alimentos e à logística. A locomoção era feita com animais e carroças e, como algumas cidades eram distantes umas das outras, demorava-se, até mesmo, dias para se chegar ao destino com os produtos. Essa dificuldade de transporte de produtos e insumos dificultava o comércio e encarecia os produtos.
Ademais, a diversidade de alimentos não era tão grande e esses alimentos destinavam-se mais à subsistência, por isso, eram comuns itens básicos e de fácil consumo e estocagem, como arroz, abóbora, milho, mandioca, porco, galinha e farinha de mandioca. Assim, a alimentação estava, diretamente, ligada a polos como agricultura, alimentação, culinária e comércio, facilitando as trocas e as negociações baseadas nas necessidades das pessoas.
Socialmente, a alimentação tem como ponto positivo reunir várias culturas e hábitos alimentares, desde a pessoa que produz até o consumidor final. Nessa socialização, também há as trocas de receitas, que proporcionam melhorias e inovações, e as festas, que promovem confraternizações. No início, ainda não existia uma identidade gastronômica, uma raiz, mas, a partir da preocupação de se alimentar cada vez melhor e de soluções mais qualificadas para alimentos e seus métodos de cocção, essa realidade começou a mudar.
Nesse contexto de inovações, com a mudança de hábitos devido ao aumento das cidades, aos novos horários de trabalho da população, ao ato de a mulher trabalhar fora de casa, dentre outros aspectos, a gastronomia também mudou. A indústria da alimentação obteve mais ganhos e abocanhou uma grande fatia de mercado, abrindo espaço para a publicidade maçante e as novas possibilidades de linhas de trabalho e diversificação, na composição do grandioso mercado de alimentação.
A evolução da gastronomia brasileira é marcada por diversos fatores históricos que incluem mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais que influenciaram, diretamente, as práticas alimentares do país (ROCHA, 2016). Dentre as vertentes que contribuíram para o desenvolvimento da gastronomia no Brasil, está a agricultura familiar. Sem cultivo não há alimento e sem alimentos há uma quebra na cadeia que norteia a manutenção da vida, o que, secundariamente, desequilibra outros aspectos, como transporte, venda, produção, etc.
Nesse contexto, é possível mencionar a baixa oferta e, por conseguinte, a carestia de alimentos, pois quem vende especula, tornando-os mais caros, e quem sofre é a população, que se obriga a pagar valores alarmantes. Ainda, essa situação assusta os consumidores e não possibilita experiências com produtos diversificados, pois as pessoas compram o básico e não se arriscam.
Portanto, com a globalização e os desenvolvimentos sociais e tecnológicos, houve grande mudança nos hábitos alimentares em todas as partes do mundo e, especialmente, no Brasil. Com o passar dos anos, os brasileiros foram adquirindo novos horários, hábitos e novas maneiras de se alimentar, e a sociedade moderna, de modo geral, adotou dietas multiculturais.
Considerando os fatores históricos e sociais da época da colonização do Brasil, alguns aspectos tornaram-se tradição na alimentação brasileira, devido à culinária e à cultura gastronômica que foram herdadas de outros povos. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.
No Brasil, o cultivo e o consumo de bovinos, suínos e aves foram influenciados pela cultura portuguesa.
Correta. Os portugueses já tinham esse hábito estabelecido e o transmitiram aos brasileiros, como fonte de renda e subsistência.
No Brasil, o cultivo e o consumo de mandioca e de outras raízes foram estimulados pela cultura africana.
Incorreta. O consumo e o cultivo de mandioca são práticas típicas da cultura indígena, que aproveitava, o máximo possível, esse produto na culinária.
O consumo de pimenta se intensificou no Brasil, devido à chegada dos africanos no país.
Incorreta. O consumo de pimenta é característico da cultura africana e se intensificou no Brasil com a chegada desse povo no país, o que provocou mudanças significativas nos temperos utilizados na culinária local.
O azeite de dendê ganhou destaque no Brasil por influência dos portugueses.
Incorreta. O azeite de dendê tem origem africana e é um hábito alimentar desse povo, que trouxe esse produto para o Brasil e o incorporou à gastronomia regional.
O beiju é um prato típico da cultura africana.
Incorreta. O beiju é um prato originário da cozinha indígena; é uma comida, tipicamente, brasileira, muito consumida até hoje.
A história do Brasil destaca o desenvolvimento das práticas alimentares com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao país, mas, para entender a cultura alimentar brasileira atual, é necessário compreender todas as práticas alimentares dos índios (KHATOUNIAN, 2012). A cozinha indígena tem extrema importância na culinária, visto que influenciou o que, hoje, é a gastronomia brasileira.
As influências da cultura indígena na alimentação brasileira destacam-se, principalmente, em produtos como o milho, a batata doce, a banana-da-terra, o mate e o feijão (DINIZ et al., 2018). De acordo com Cascudo (2004), os índios não criavam bois ou qualquer tipo de animal, visto que tinham como base o cultivo de raízes, sendo a mandioca, também conhecida como macaxeira, a mais importante (Figura 1.3).

Os indígenas viviam do próprio ciclo de reprodução natural das espécies. Como já se sabe, o processo de reprodução das plantas pode ser auxiliado pelos pássaros, mediante a polinização. A reprodução das espécies animais também acontecia em um ciclo natural.
Os indígenas tinham como base alimentar a mandioca, complementada com produtos da caça, da pesca e da coleta. Através de sua lente de português do século XV, assim descrevia Caminha o sistema alimentar dos índios: “Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem qualquer alimária (animal) que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame (mandioca), que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e as árvores de si lançam”. Mas a surpresa maior, aos olhos de Caminha, era que esse sistema alimentar resultava em maior vigor físico do que o dos portugueses, nas suas próprias palavras: “E com isso (essa dieta) andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos” (CAMINHA, 1999 apud KHATOUNIAN, 2012, p. 2).
A mandioca, manihot esculenta, serve como base da alimentação brasileira, é classificada como doce ou amarga, branca ou amarela. A doce é considerada não venenosa e é utilizada em vários preparos, além de ser conhecida por nomes diferentes, dependendo da região do Brasil. Os indígenas tinham facilidade para cultivar a mandioca e sempre souberam diferenciar cada tipo desse alimento (FREIXA; CHAVES, 2008).
Muito utilizada em cozidos, farinhas, por ter uma quantidade grande de amido, e no preparo de bolos, há a mandioca amarga ou brava, que é versátil (Figura 1.4). Esse tipo de mandioca precisa de um preparo, para que seja retirado o veneno letal que ela contém, denominado ácido cianídrico.
Os índios ralavam a mandioca em uma prancha de madeira, cravejada de pedras, na qual a raiz era prensada e torcida dentro do tipiti (um artefato indígena feito com bambu ou palha, em formato de cobra), e aguardavam o tempo necessário para a fermentação. Depois, a mandioca era pendurada em árvores e, embaixo dela, ficava um recipiente para colher, completamente, o caldo que escorria da planta. Após esse processo, o líquido era fervido por um bom tempo, recebendo o nome de tucupi ou manicuera. Esse líquido de cor amarelada era usado em caldos e bebidas, como o arubé e o caxiri (caldo engrossado com a mandioca, também conhecido como mostarda indígena). Esse líquido era utilizado pelas índias para conservar as caças, como os peixes.
A mandioca ralada e seca, que ficava dentro do tipiti, era passada na água, para fazer a decantação, extraindo-se, assim, o amido que dá origem ao polvilho e ao mingau. Além desses preparos, quando seca, esse tipo de mandioca torna-se beiju e farinha.

Outros produtos importantes da cozinha indígena são o milho e o feijão, principalmente, porque são variados, o que permite sua utilização em diversos preparos. O milho dá origem à canjica, à farinha, etc. Por sua vez, o feijão é, até hoje, um alimento de elevado consumo, essencial para a culinária brasileira, sendo considerado o prato mais tipicamente nacional (DINIZ et al., 2018).
A maior fonte de alimentação e sobrevivência dos indígenas sempre foi a mandioca, que tem variadas facetas e é conhecida por vários nomes, dependendo da região do país, como aipim, uaipi, xagala, maniva, macaxeira, castelinha, dentre outros. A mandioca, descoberta pelos índios e transformada em sua grande fonte de subsistência e em algo essencial na dieta diária, teve seu processo criativo de preparo alavancado, pois os portugueses queriam melhorar o processo de consumo dessa raiz, diversificando as maneiras de preparo e de consumo. É válido salientar que, antes de chegarem ao Brasil, os portugueses não tinham contato com essa planta (KHATOUNIAN, 2012).
Em relatos históricos, há muitas características da mandioca, como a tonalidade, além de aspectos relacionados à expansão dela pelo país. A mandioca é considerada uma das raízes mais consumidas no país e, com o auxílio de portugueses e europeus, passou a ser utilizada em diversos preparos, alcançando diferentes classes sociais.
Os índios criaram pratos por necessidade fisiológica e, devido à distância entre as regiões e às dificuldades de locomoção, faziam com que os subprodutos durassem mais tempo e pudessem ser utilizados de outras formas. Ademais, mesmo sem conhecimentos técnicos, os índios descobriram o veneno da mandioca e as demais variedades dessa raiz, que também era chamada de pão-da-terra ou pão do Brasil. Muitos subprodutos originados da mandioca e extraídos dela pelos índios são apreciados até hoje, pois se transformaram em produtos de uma atividade ampla e industrial, capaz de movimentar a economia atual e aumentar, sistematicamente, as receitas em que a mandioca pode ser utilizada.
O subproduto mais conhecido da mandioca é a farinha que, na época da colonização, os portugueses chamavam de farinha de pau, segundo Pero de Magalhães Gandavo (apud CASCUDO, 2004, p. 77): “O que lá se come ao invés de pão é farinha de pau. Esta se faz da raiz de uma planta chamada mandioca, a qual é como inhame”.
Apesar de, antes da chegada dos portugueses, os indígenas não terem muitos utensílios para o preparo de sua alimentação, tinham diferentes ingredientes, o que firmou a fusão dessas duas cozinhas e enriqueceu o que já existia no Brasil com as especiarias que eram utilizadas em Portugal (Figura 1.5).

A culinária própria dos índios era natural, básica e composta por elementos como raízes variadas, palmito, coco, macaxeira, milho, frutas silvestres, castanhas, vegetais folhosos e formigas. Além disso, com a imensa mata virgem do país na época da colonização, havia uma grande quantidade de animais de várias espécies, que eram caçados pelos indígenas, para servirem como fonte de alimentação, por exemplo, anta, cutia, capivara, macaco, gato-do-mato, onça, javali, dentre outros.
Os índios também pescavam tanto em água salgada como em água doce, pois, naquele período, havia uma variedade muito grande de peixes, e algumas espécies existem até hoje, por exemplo, peixe-agulha, beijupirá, pirarucu, tucunaré, tambaqui, carimã, surubim, dentre outros (Figura 1.6). Os índios, à sua maneira e em sua língua, dividiam os peixes em classes e chamavam os peixes de couro de pirá e os de escamas de cará.

Devido aos fatores climáticos da época da colonização e às dimensões geográficas do Brasil, havia diversos grupos indígenas em diferentes áreas do país, assim, o número de ingredientes era extenso. Por exemplo, unindo os ingredientes dos índios do Pará com os do Rio Grande do Sul, é possível definir uma quantidade enorme e variada de receitas, formas de preparo e sabores. Nesse sentido, todo o território nacional foi influenciado pela cultura indígena.
Com os vários ingredientes, aliados aos equipamentos criados e/ou adaptados para o preparo de receitas, foi possível criar diferentes preparações (Figura 1.7). Dentre esses equipamentos, é possível mencionar:

Também, era muito utilizada uma espécie de grelha, chamada de moquém ou moqueteiro, na qual eram desidratadas e, em alguns casos, assadas as carnes, como se fosse um fumeiro. O alimento era deixado sobre essa grelha por vários dias, alongando seu cozimento, assim, a fumaça desidratava, conservava e dava sabor às carnes.
Os índios se orientavam pelo olfato e pela sensibilidade visual para saber se o produto estava bom para o consumo. No caso das tribos das regiões litorâneas, as carnes eram temperadas com o sal proveniente da água do mar e recebiam as cinzas de madeiras queimadas, o que acentuava o sabor, devido à defumação (Figura 1.8). Ademais, os indígenas utilizavam pimentas e ervas variadas.

Outros elementos utilizados na preparação dos alimentos eram: forno de barro, panela de barro, potes de barro e areia, cascos de animais, cascas de fruta, colheres de pau, pilões de madeira, cestas de palha, folhas de palmeiras, folhas de bananeira e palhas de milho (Figura 1.9).

Alguns pratos indígenas, ainda longe do conhecimento de muitas pessoas, mantêm suas características originais, como é o caso do chibé (xibé, na língua tupi), também conhecido como jacuba, que é um creme feito com farinha e água. Em algumas tribos, o chibé era feito quase como um suco, para evitar a necessidade de talheres.
Em conjunto com os ingredientes que compõem o prato, o chibé, quando mais denso, acompanha algumas carnes, especialmente, peixes, e tem uma forma parecida com uma tapioca hidratada.
Outro prato que pode ser mencionado é o caribé, tipo de sopa feita com massa de beiju, acrescentando-se água à massa, para amolecê-la e formar um mingau. Era usual tomar, em cuias, o caribé feito com água morna, no período da manhã, e com água fria, à noite. Muitas vezes, o caribé recebia o aviú, uma espécie de pequeno camarão proveniente dos rios do Pará, e algum cheiro-verde, como a chicória ou o nhambi (erva muito parecida com o coentro).
Ainda, há pratos como o curadá, um beiju de tamanho maior, parecido com uma tapioca, mais umedecido, enrolado e recheado com castanhas cruas. Por sua vez, o macapatá é um bolo indígena, feito de massa de mandioca mole, que, depois de espremida no tipiti, é amassada com banha de tartaruga e pedaços de castanha crua. Após esse processo, a massa é modelada à mão, envolvida em folhas de bananeira ou de pacova-sororoca (palavra indígena que define uma planta da família das musáceas, ou bananeira-brava) e assada.
Os índios também consumiam o turu, um molusco comprido, que pode chegar a 20 cm, encontrado em troncos podres, nos mangues, muito parecido com um bigato de leite ou uma lombriga de cor branca, tendo uma textura gelatinosa. O bigato era consumido sem a cabeça, por ser dura, e, muitas vezes, sem qualquer tempero. Os índios acreditavam que o turu era afrodisíaco, pois a proteína dele dava essa sensação ao ser consumida.
As abelhas também eram consumidas pelos índios. Primeiro, eles retiravam o mel do favo, espantando as abelhas com fogo, depois, elas eram assadas em pedras.
Ressaltando a importância de alimentos que os índios colhiam para consumir, é possível citar: açaí, cupuaçu, abacaxi, banana-da-terra ou banana-pacova, mamão-papaia, goiaba, guaraná, graviola, taperebá, maracujá, caju, dentre outros (Figura 1.10). Ainda, os índios plantavam amendoim, cará, favas e inhame.

Outro ingrediente da cozinha indígena, muito utilizado até hoje, é uma erva exótica, com sabor marcante, encontrada na Amazônia, chamada de jambu, que é uma planta semelhante ao agrião, mas com folhas menores, mais duras, com sabor forte, porém agradável. Ao ser mastigada, essa planta proporciona dormência, choque, leve formigamento e sensação de amortecimento, de anestesia. Ademais, essa planta é utilizada em pratos tradicionais, como o pato no tucupi e o tacacá (Figura 1.11).

Os índios da região da Amazônia, os baniwas, eram adeptos do consumo de formiga maniuara (cupins), que eram retiradas de seus ninhos com a ajuda de galhos e folhas de bacaba, uma palmeira da região. Outra formiga consumida nessa região era a saúva (tanajura ou içá), capturada com a ajuda de um galho espetado sobre o formigueiro, no qual as formigas subiam. Depois de secas, os índios pilavam ou torravam as formigas e as comiam com farinha.
Os sabores e as cores desses preparos variavam, pois a formiga saúva tem cor mais esverdeada ou roxa, remete a um sabor termogênico, como o do gengibre, ao cravo e a algumas plantas, como hortelã e menta, com um toque agridoce. Muitos índios também comiam as formigas com ionquet, uma pasta feita com sal e pimentas moídas. Por sua vez, a formiga maniuara tem cor caramelada e sabor de terra, transmitindo um sabor mais ácido, naturalmente presente na espécie (Figura 1.12).

Em relação às bebidas indígenas, as mais tradicionais são:
Para cultivar o milho, os índios tinham suas próprias sementes, que eram herdadas de seus ancestrais. Os índios tupis davam grande valor ao milho, assim como os caiapós que, inclusive, realizavam rituais para o plantio desse cereal.
Outras tribos, como a dos xavantes, também tinham suas roças, utilizadas para a subsistência. Os índios do xingu tinham o milho como principal fonte de alimentação e, até mesmo, realizavam um ritual assim que se iniciavam as primeiras espigas, com a ideia de que esse alimento nunca faltasse.
As cores dos milhos são variadas, e algumas tribos preferiam os mais escuros, outras, um tom mais claro. Quanto aos modos de preparo, o milho era colocado sob o sol, para secar e ser possível a produção de farinhas e fubás. O milho também era feito em pilão (macerado) ou utilizado fresco, assado em brasa ou direto no fogo. Ainda, poderia ser cozido, em forma de mingau e canjica, e acompanhado de outros alimentos. Esses aspectos deram origem a muitos pratos e a uma grande variedade de subprodutos, por exemplo: farinha, fubá, quirera, farelo, glicose de milho, óleo e amido, além de pratos como angu, broa, canjica, creme, croquete, cuscuz, curau, pamonha, pudim, pipoca, polenta, suflê, sorvete, tortas salgadas, etc. (Figura 1.13).

Esses são alguns pratos que têm o milho como base e que são provenientes dos índios. As tribos influenciaram a alimentação da população brasileira, visto que, sem a valorização que eles deram ao milho, por exemplo, dificilmente esse cereal seria tão utilizado atualmente. Nesse sentido, esse produto é importante para a alimentação das tribos indígenas, a formação de plantios espalhados em todo o país, a releitura de muitas receitas e para a economia.
A cozinha indígena é um patrimônio a ser explorado dia a dia, pois ainda se sabe muito pouco sobre ela, tendo em vista a contribuição dos índios para a alimentação, as formas de preparo e o consumo dos alimentos. Alguns detalhes chamam a atenção, invadem restaurantes modernos e fazem surgir pesquisas relacionadas à alimentação, como os aspectos referentes ao consumo de formigas, farinhas, raízes e frutas. Muitos ingredientes ainda são desconhecidos do grande público, mas, há anos, fazem parte do cotidiano indígena.
Outro fator importante é a mistura de índios e portugueses. Por exemplo, quando chegaram ao Brasil, muitos portugueses vieram sem suas esposas ou nem eram casados. Nesse contexto, houve muitos casamentos entre portugueses e índias, as quais, consequentemente, tornaram-se esposas, mães e avós de descendentes portugueses. Essa miscigenação provocou uma grande mudança nos costumes e hábitos alimentares da população, pois, como o casamento era entre pessoas de culturas distintas, as diferenças eram inseridas na nova sociedade que estava se formando.
As terras férteis e providas de muitas espécies eram essenciais para a subsistência dos portugueses, assim, eles caçavam, buscavam insumos na mata, adaptavam-se a essa rotina e aprendiam a se alimentar como os indígenas. A dieta que os portugueses tinham na Europa não era igual aqui no Brasil, devido à forte influência da culinária indígena.
As índias preparavam alimentos locais, os quais marcaram essa alimentação miscigenada que, inclusive, foi adaptada ao paladar dos europeus. Os filhos dos portugueses já nasceram com essa forma de alimentação; eles presenciaram a fartura dos alimentos vindos de Portugal e tiveram contato com a cozinha portuguesa, mas ainda assim a cozinha do dia a dia era dirigida pelas índias. No entanto, em algumas ocasiões como festas e datas especiais, eram as portuguesas que dirigiam as cozinhas, comandando os temperos utilizados e a maneira como os pratos seriam servidos.
Considerando-se a arquitetura daquela época, a localização da cozinha nas moradias foi escolhida de forma estratégica, devido ao calor. Os portugueses que foram construindo suas casas no Brasil faziam a cozinha do lado de fora, onde se preparava um cardápio mais formal. Além disso, devido à organização e à logística da rotina familiar, a cozinha interna era utilizada em datas especiais.
É importante reforçar a valiosa e virtuosa influência do índio na alimentação nacional, resultando em uma herança fundamental para a cultura e a subsistência brasileiras. Também, é possível frisar a relevância da chegada dos portugueses, os quais utilizavam técnicas mais modernas no preparo de alimentos da época. Os portugueses plantavam aquilo que a terra oferecia, para que os futuros exploradores também tivessem acesso a essas roças, o que serviria de sustento a esses desbravadores, como é o caso da mandioca. Por fim, é inegável a contribuição de produtos como mandioca e milho, ingredientes naturais e que, até hoje, estão presentes, de forma variada, no mercado alimentício.
Neste momento, discutiremos a importância que os escravos africanos tiveram para a alimentação dos brasileiros. Assim, abordaremos a contribuição desse povo acerca do que comemos hoje, incluindo os ingredientes que foram incorporados à culinária brasileira.
A influência africana na gastronomia brasileira ocorreu, principalmente, no período histórico marcado pela escravidão, com a vinda de escravos para o Brasil. Devido às condições precárias desse povo, não foi possível trazer utensílios e insumos da África, mas as práticas e os costumes alimentares foram associados aos produtos brasileiros e aos trazidos pelos portugueses (DINIZ et al., 2018). A forma de cozinhar e de manusear os alimentos representa a primeira influência desse povo na culinária brasileira (DÓRIA, 2014). Além disso, segundo Diniz et al. (2018, p. 17),
Os negros de ganho, que comercializavam produtos nas ruas em nome do seu senhor, vendiam comida que se aproximavam, cada vez mais, da culinária da África, além das comidas de orixá, as quais ressignificavam a cultura africana, fortalecendo suas origens e simbolizando a resistência do povo negro.
Como exposto anteriormente, os africanos vieram em navios lotados e insalubres e não trouxeram seus ingredientes na bagagem, pois, devido à necessidade de sobreviver e resistir às dificuldades da viagem, não era possível consumir alimentos frescos. Dessa forma, os corpos dos viajantes ficavam fragilizados, e doenças, como o escorbuto, eram frequentes, o que provocava ainda mais sofrimento nessas travessias. Os africanos, que eram anulados em tudo, forçados ao novo, sem esperança de voltar para casa, traziam apenas a sua cultura em suas memórias.
Ao embarcarem no navio, em alguns casos, essas pessoas recebiam um kit de sobrevivência, que era consumido durante a viagem. Esse kit recebia o nome de carapetal e continha o milho e a farinha de mandioca, alimentos que, por serem secos, resistiam à viagem, ou apenas milho e laranja.
Em decorrência dessa alimentação deficitária, muitos não chegavam ao Brasil. Além disso, muitos escravos adquiriam doenças como disenteria e tifo, que eram comuns, devido às precárias condições de higiene. Quando faleciam, eram arremessados ao mar, e os que conseguiam sobreviver chegavam debilitados, fracos, doentes e sem forças, mas era necessária uma recuperação rápida, para que pudessem ser negociados. Para isso, os escravos eram submetidos a uma dieta à base de caju, para fortificá-los e recuperar sua saúde. Com uma alimentação fraca e viajando em um local insalubre, é possível afirmar que muitos eram, realmente, resistentes, por conseguirem sobreviver a tais condições.
No Brasil Colônia, a economia brasileira era associada aos modelos europeus, ou seja, mercantilistas. De acordo com esse modelo, o Brasil deveria produzir apenas para servir a sua metrópole e submeter-se à subordinação política, pois o Pacto Colonial determinava essa subordinação.
Quando a produção do pau-brasil começou a diminuir, foi preciso achar uma alternativa para aquecer a economia e atrair colonizadores. Nesse contexto, o açúcar atraiu a atenção dos portugueses, pois tinha boa venda no continente europeu, mas era necessária uma grande produção para a venda (Figura 1.14). Então, plantava-se muita cana-de-açúcar no Brasil, inicialmente, mediante a mão de obra indígena, depois, africana. Havia, inclusive, alguns trabalhadores livres, mas eram poucos.

A troca da mão de obra indígena pela africana teve como critério fatores como a resistência física africana, que era superior nos escravos, e o fato de esse ser um povo menos contagiado por doenças. Ademais, os índios conheciam bem a mata, o que possibilitava a fuga, ao contrário dos africanos, que não conheciam as terras brasileiras. Ainda, o tráfico de escravos era considerado barato, devido às condições precárias dos navios. Os africanos também trabalhavam nas minas, nos engenhos, em processos de limpeza e em vários outros cultivos.
Durante o dia, o povo africano alimentava-se com farinha de milho misturada com água e um pedaço de toucinho; à noite, comiam feijão. É possível afirmar que os africanos foram submetidos à cultura portuguesa, adotaram e adaptaram os costumes europeus e os produtos locais aos seus próprios hábitos de cozinhar, aspectos que, atualmente, compõem a cultura brasileira. Alguns ingredientes vieram da África e, hoje, fazem parte da agricultura, da indústria e do comércio brasileiros, por exemplo, banana, café, pimenta malagueta, azeite de dendê, quiabo, gengibre, melancia, jiló, coco verde, dentre outros.
Esses produtos foram utilizados para suprir as necessidades fisiológicas e financeiras da época, como é o caso da cachaça e do café que, hoje, estão entre as principais fontes de renda do país. A banana foi transformada em balas e doces; a pimenta foi utilizada em conservas, foi desidratada, tornou-se geleia in natura, etc.; o azeite de dendê recebeu o nome da palmeira do qual se origina, para não ser comparado ao azeite europeu. Esses são apenas alguns exemplos da culinária africana em terras brasileiras.
A junção de alimentos utilizados pelos índios e africanos tem como exemplo o milho, muito consumido pelos indígenas e que foi incorporado à alimentação dos escravos, os quais criaram muitas receitas a partir desse produto, como pirão, angu e caldos. Ademais, o milho era usado no preparo de bolos, assim como o arroz e o inhame.
A popularidade do arroz com feijão já era notável, e a caça também estava presente na gastronomia do período da colonização. Até mesmo, o cão assado fazia parte dos cardápios festivos. Pirão, funge e mufete (peixe inteiro) também eram apreciados nessa época. Ademais, os escravos africanos não bebiam leite e era comum o consumo de doces, como o de abóbora.
Durante a escravidão, como exposto anteriormente, os negros trabalhavam em lavouras, nos engenhos, cafezais e nas minas de ouro, além de fazerem o serviço doméstico, cuidarem das crianças e, no caso das escravas, até mesmo, amamentarem os bebês de seus senhores. Os escravos que trabalhavam nas casas tinham uma alimentação melhor, porque podiam comer o resto de seus senhores.
Segundo o folclorista Luís da Câmara Cascudo (2004), o cuscuz é um prato originário dos mouros da África Setentrional, mais especificamente do Egito e do Marrocos, e que, com o passar do tempo, teve seu consumo difundido entre as populações do Golfo da Guiné. No Brasil, o cuscuz africano passou por algumas adaptações, mas as mais importantes foram a substituição do arroz pelo milho e o acréscimo do leite de coco. Além do cuscuz, do angu, a popular pamonha de milho também tem origem em um prato africano, o acaçá.
“[...] Mulher,
Você vai fritar
Um montão de torresmo pra acompanhar
Arroz branco, farofa e a malagueta
A laranja-bahia ou da seleta
Joga o paio, carne seca, toucinho no caldeirão
E vamos botar água no feijão [...]”.
A letra da música “Feijoada completa”, de Chico Buarque de Holanda, dá a receita de um dos pratos mais típicos do país, que mistura feijão preto, pedaços de carne de porco, arroz, couve e farofa.
Você pode ler e escutar essa música, integralmente, no link: <https://www.kboing.com.br/chico-buarque/feijoada-completa/>. Acesso em: 23 jan. 2020.
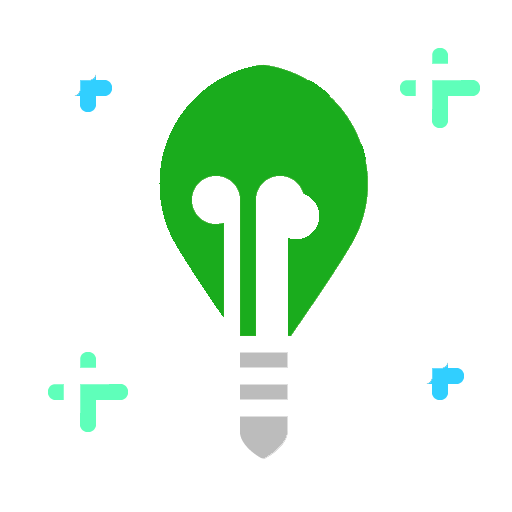
A história mostra duas vertentes a respeito da feijoada. Alguns relatos consideram que a feijoada é uma influência da cultura africana, visto que, apenas com sobras de carne de porco e feijão, os escravos usaram sua criatividade e desenvolveram esse delicioso prato. Em contrapartida, outros relatos mostram que o costume de misturar os ingredientes é uma característica europeia, considerando, então, que a feijoada é uma releitura de pratos europeus (DINIZ et al., 2018).
Hoje, de modo geral, a feijoada brasileira é servida nos restaurantes aos sábados, junto com a caipirinha. Esse é um prato que representa muito bem a cultura brasileira, assim como o futebol e o carnaval. Independente da forma de preparo e do dia em que é servido, esse prato sempre é feito com feijão-preto e com pedaços de porco. Também, é possível utilizar carnes bovinas e outros tipos de feijão, de cores variadas.
Nesse sentido, a feijoada perdeu uma característica apresentada pela história, a qual afirma que ela era feita com sobras, pois, hoje, a feijoada pode ser encontrada em versão gourmet, sendo, inclusive, servida em pequenas porções individuais. Como exposto anteriormente, esse prato é motivo de pesquisas, mas não há um consenso sobre a sua criação.
Por exemplo, para Cascudo (2004, p. 446), “[...] o que chamamos de ‘feijoada’ é uma solução europeia elaborada no Brasil. Técnica portuguesa com o material brasileiro”. Por sua vez, Freixa e Chaves (2008) defendem que esse é um prato brasileiro, criado nas senzalas e que era feito com restos de porco, como rabo, orelha e pé. De certo modo, essa visão corrobora a opinião de Cascudo (2004, p. 242), pois, para o autor, a feijoada é “[...] um modelo aculturativo do cozido português”, resultado da junção do consumo do porco – introduzido pelos lusos – com ingredientes vindos de locais distintos do Brasil, como feijão-preto, carne-seca (do sertão), charque (do Rio Grande do Sul), couve, toucinho, dentre outros.
Um exemplo é o cassoulet francês, que é feito com feijão-branco, pedaços de porco, de pato e ervas. Por sua vez, o cozido português contém pedaços de suíno, paio, repolho, couve e cenoura, dentre outros ingredientes. A feijoada brasileira tem resquícios desses pratos e, considerando a carência de alimentos para os escravos, é possível verificar a criatividade desse povo (Figura 1.15).

No período em questão, o europeu tinha o costume de se alimentar com carnes bovinas, suínas, ovinas e com aves, enquanto os africanos eram acostumados a consumir elefantes, zebras, búfalos e outros animais comuns no continente africano. No Brasil, o costume de consumir carne de gado teve início por volta do século XVI, pois os índios e os africanos não consumiam essa carne antes desse período.
De acordo com Franco (2001), o cozido feito de farinha de mandioca com pedaços de carne curada, abóbora e, algumas vezes, feijão-preto e toucinho deu origem à feijoada. Por sua vez, Elias (2010), considerando que existe a ideia amplamente difundida de que os escravos africanos criaram a feijoada, ressalta que as partes salgadas do porco, como orelha, pés e rabo, nunca foram restos, porque eram apreciados na Europa, enquanto, nas senzalas, o alimento básico era uma mistura de feijão com farinha, como destacado anteriormente.
Como o cozimento é lento e o tempo de cocção pode variar, o modo de preparo tornou-se uma característica insubstituível do prato. Nesse sentido, muitos pratos com o feijão foram sendo preparados das mais diferentes formas. A feijoada, como conhecemos hoje, só foi preparada por volta do século XIX, e não foi nas senzalas.
Independente dos vários conceitos relacionados à feijoada, ela é essencial para a cultura alimentar brasileira, inclusive, devido a sua importância comercial. Portanto, é visível a relevância da cozinha africana e a grande contribuição desse povo para a gastronomia brasileira.
A cultura indígena é uma das raízes da gastronomia brasileira. Aprendemos muito com os índios, principalmente, com seus costumes e suas práticas alimentares. Para conhecer um pouco mais sobre as raízes da culinária brasileira, assista ao vídeo “Raízes da gastronomia brasileira: comunidades indígenas”, que está disponível, integralmente, no link: <https://www.youtube.com/watch?v=lfCVCqZnd6E>. Acesso em: 05 dez. 2019.

No Brasil, muitos alimentos que têm amplo destaque são heranças dos povos indígenas e africanos que contribuíram, significativamente, para a diversidade alimentar brasileira. Com base nos conhecimentos adquiridos nesta unidade, assinale a alternativa correta.
O leite era um alimento amplamente consumido pelos africanos.
Incorreta. Os escravos não consumiam o leite de modo frequente, pois esse alimento era mais característico da nobreza da época. O consumo de leite, raramente, era permitido aos escravos; isso acontecia apenas quando o leite talhava.
O milho é um alimento que tem grande destaque nas culturas indígena e africana.
Correta. O milho estava muito presente na alimentação dos escravos e era utilizado no preparo de bolos, por exemplo. Os índios também consumiam muitos pratos que eram preparados com milho, pois esse alimento era muito importante para a cultura indígena.
A carne de gado era amplamente consumida pelos índios, por meio da caça.
Incorreta. O costume de consumir carne de gado teve início no Brasil por volta do século XVI. Os índios e os escravos não consumiam essa carne antes desse período.
O consumo de embutidos se tornou frequente no período da escravidão.
Incorreta. A produção e o consumo de embutidos não faziam parte da cultura africana. A alimentação desse povo era limitada e escassa, por isso, ele utiliza a criatividade para desenvolver pratos com os insumos disponíveis.
O feijão era um produto típico da cultura indígena.
Incorreta. O feijão, com seu valor nutritivo, começou a fazer parte do cardápio somente mais tarde, com a chegada dos portugueses, logo, não integrava a cultura indígena.
Em 1808, o príncipe regente D. João, não tendo condições de enfrentar o exército de Napoleão, fugiu com sua corte para o Brasil, motivado pela invasão das tropas napoleônicas, o que acabou acontecendo em janeiro de 1808. O príncipe trouxe a família real, pessoas influentes da corte, o aparato do governo, a elite portuguesa, funcionários do alto escalão, serviçais, objetos de valor, baixelas, joias, livros, quadros, obras de valor e receitas. Muitos estudiosos afirmam que o Brasil ganhou muito com essa vinda.
Nunca algo semelhante tinha acontecido na história de qualquer outro país europeu. Em tempos de guerra, reis e rainhas haviam sido destronados ou obrigados a se refugiar em territórios alheios, mas nenhum deles tinha ido tão longe a ponto de cruzar um oceano para viver e reinar do outro lado do mundo. Embora os europeus dominassem colônias imensas em diversos continentes, até aquele momento, nenhum rei havia colocado os pés em seus territórios ultramarinos para uma simples visita – muito menos para ali morar e governar.
Era, portanto, um acontecimento sem precedentes tanto para os portugueses, que se achavam na condição de órfãos de sua monarquia da noite para o dia, como para os brasileiros, habituados até então a ser tratados como uma simples colônia extrativista de Portugal (GOMES, 2007, p. 111).
Na época em que a corte chegou ao Brasil, a cozinha ainda era muito “simples”, pois a base da alimentação correspondia às frutas tropicais e a ingredientes como mandioca, milho, abóbora, carnes de caça, algumas aves e carne de porco (a mais consumida). A carne bovina era mais consumida em comemorações e datas especiais. As gorduras animais também eram muito utilizadas, além de temperos, como pimentas variadas, gengibre e ervas.
Depois de fugir de Napoleão, apesar de se sentir aliviado, D. João não teve muita tranquilidade. Segundo Gomes (2007, p. 109),
[...] a sensação de alívio foi substituída pela incerteza logo na chegada a Salvador. Às 11h de 22 de janeiro de 1808, os navios ancoraram dentro da barra, perto do ponto em que hoje estão situados o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, mas ninguém apareceu. A ansiedade se dissipou depois de alguma espera quando o governador João Saldanha da Gama, o conde da Ponte, apareceu para cumprimentar D. João. “Não vem ninguém de terra?”, perguntou-lhe o surpreso príncipe regente. “Senhor”, respondeu o governador, “não veio imediatamente toda a cidade porque determinei que pessoa alguma se aproximasse, sem que eu primeiro viesse receber as ordens de Sua Alteza Real”. O príncipe retrucou: “Deixe o povo vir como quiser, porque deseja ver-me”. Depois do governador, foi a vez do arcebispo, D. José da Santa Escolástica, cumprimentar D. João, mas a grande festa de recepção ficou para o dia seguinte. Exausta pela travessia do oceano, a família real dormiu mais uma noite a bordo dos navios, embalada pelas águas calmas da Baía de Todos os Santos e sob a proteção dos canhões da Fortaleza da Gamboa, que guarneciam a entrada da cidade. D. João desembarcou na manhã do dia 23. Ao contrário do dia anterior, desta vez, a multidão congestionava o cais da ribeira. Salvas de canhões disparadas das fortalezas e gritos de saudação aos ilustres visitantes se misturavam ao badalo incessante dos sinos das inúmeras igrejas da capital baiana. Ao chegar à terra firme, a família real entrou nas carruagens.
Em 26 de fevereiro de 1808, D. João e sua comitiva foram para o Rio de Janeiro, onde passaram a residir. Com essa chegada e já tomadas decisões importantes para a economia do país, foram realizadas, dentre outras medidas, a abertura dos portos para as nações amigas, fato que alavancou as finanças e o desenvolvimento da agricultura.
Nesse contexto, é possível mencionar alguns órgãos que foram importantes para o governo se desenvolver com maior tranquilidade, como o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Junta Comercial, o Supremo Tribunal e a Escola de Belas Artes, com o renomado pintor e professor francês Jean Baptiste Debret, que integrou a Missão Artística Francesa.
A chegada da família real ao Brasil causou impactos, mudou toda a questão de saneamento, saúde, arquitetura e costumes, ou seja, tudo foi alterado para melhor, mas para servir bem a corte. Surgiram novos bairros e freguesias e, em consequência, aumentou o número de transportes feitos com animais, pois a população triplicou. Assim, no Rio de Janeiro, a Rua Direita tornou-se, a partir de 1824, a primeira da cidade a ter numeração e trânsito organizado pelo sistema de mão e contramão.
A Europa já era uma grande consumidora de bons produtos gastronômicos, logo, a corte portuguesa chegou às terras brasileiras já conhecendo alimentos muito sofisticados e a boa gastronomia, como o consumo de carnes diversas, peixes e frutos do mar. Nessa fase de muito requinte, havia diversos itens de panificação e o já conhecido serviço à la russe, no Brasil, substituiu o à la française. Ainda, as louças passaram a ser importadas da Inglaterra ou da China.
Quanto ao comércio de alimentos no Brasil, em 1808, ele ainda era precário, pois, para serem vendidos, os produtos eram colocados sobre toalhas estendidas no chão e expostos na rua ou em feiras-livres por escravos a mando de seus patrões. Algumas patroas, com conhecimentos culinários, e viúvas, como auxílio à renda, faziam doces de tabuleiros, pão-de-ló, pães, sonhos, quindins, doces com coco, acarajé, dentre outros pratos, para que serem vendidos pelos escravos. Também faziam parte dessas vendas carnes, leites, vegetais e frutas.
Com a abertura dos portos e o acordo de cavalheiros feito com a Inglaterra, alguns alimentos começaram a ser consumidos por alguns privilegiados da corte, por exemplo, amêndoas, azeites, nozes, chás, embutidos, manteigas, champanhes, vinhos, frutas secas, dentre outras variedades.
No que se refere à organização da mesa nessa época, é possível destacar algumas peculiaridades. As refeições tinham características e horários estabelecidos, de acordo com o que agradava o chefe da casa. Nos horários determinados, as famílias se reuniam e faziam suas refeições. De acordo com Gomes (2007), somente os homens usavam faca; mulheres e crianças comiam com os dedos. Ao mesmo tempo, as escravas comiam em pontos diversos da sala e, às vezes, suas senhoras lhes davam um pouco de comida com as próprias mãos. Quando havia sobremesa, segundo os registros, eram servidas frutas, como laranja, banana e poucas outras variações.
Os mais abastados da corte, a maioria de origem portuguesa, desenvolveram uma cozinha que imitava a corte quanto ao uso de produtos importados, mas fazendo adaptações para produtos nacionais. Assim, a cozinha desse período foi marcada pelos costumes de uma cozinha cosmopolita, com alguns requintes internacionais, como o chá.
D. João apreciava muito os ingredientes brasileiros. A galinha era um deles, pois estava presente em todas as refeições, até mesmo, nos momentos de lazer do príncipe. Como era um apreciador de frango, consumi-o junto com fidalgos e tinha estoque de galinhas desossadas.
Outro exemplo é o pão de trigo, que já era comum na Europa. Romio (2000) afirma que, aos poucos, o consumo desse alimento foi ganhando novas proporções e, a partir dos fornos reais, o pão de trigo ganhou as ruas, ficando conhecido como pão francês, devido, acredita-se, à presença da Missão Francesa na cidade.
A receita do pão mais consumido atualmente no Brasil surgiu no início do século XX, perto da Primeira Guerra Mundial, por meio de brasileiros que voltavam de países da Europa. Até o fim do século XIX, o pão mais comum no Brasil era completamente diferente, pois tinha miolo e casca bem escuros. Na época, em Paris, era comum um pão curto, com miolo branco e casca dourada. Os viajantes de famílias abastadas que voltavam de lá narravam o produto a seus empregados, que, então, tentavam reproduzir a receita. O resultado foi a invenção do pão francês brasileiro, que tem diferentes apelidos por todo o país.
Com Portugal enfrentando uma revolução em 1821, o povo pedia a volta de D. João ao país. Mesmo contra a sua vontade, D. João voltou para Portugal, deixando seu filho Pedro como príncipe regente. Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro I declarou o país independente de Portugal e se tornou imperador do Brasil.
Com hábitos simples, D. Pedro I não tinha o mesmo apetite de seu pai. Sua alimentação era muito menos requintada, pois ele preferia carne de porco, toucinho e arroz, que eram devorados após uma sopa simples, composta por caldo de carnes e legumes. De seu pai, D. Pedro I herdou a paixão pela música. Hiperativo, ele acordava às 6h da manhã, dormia após as 23h, almoçava às 9h e jantava às 14h. Gastava menos de vinte minutos em cada refeição. Tinha o apetite voraz, mas hábitos gastronômicos simples, como já exposto (GOMES, 2015).
O prato preferido dele era “Um pedaço gorduroso de carne de porco ou de boi com arroz, batata e abóbora cozida – tudo misturado no mesmo prato. Ou arroz, feijão e mandioca. A carne era tão dura que poucas facas conseguiriam cortá-la” (GOMES, 2015, p. 77). Ademais, o imperador fabricava cachaça e a comercializada nos botequins cariocas (Figura 1.17). Para os padrões da época, é possível afirmar que ele era um visionário.

D. Pedro II desenvolveu a cultura, a botânica, influenciou as pesquisas da época e fez florescer as manifestações de escritores e pintores nacionais. Era um homem simples à mesa, comia pouco e tinha hábitos amenos no cotidiano. No café da manhã, tinha o hábito de comer ovos e tomar café com leite. D. Pedro II também gostava muito de canja, a qual podia ser preparada com galinha ou com uma ave tradicional do Brasil, o macuco. “Tomava água com açúcar como refresco. Gostava também de doces simples como figo” (FREIXA; CHAVES, 2008, p. 200). Ainda que apreciasse uma boa sopa de galinha, Dom Pedro II não gostava dos grandes banquetes e era seletivo; gostava de comer sozinho e rapidamente. Dessa forma, serviu apenas dois banquetes em todo o seu reinado de 58 anos.
Por fim, é preciso salientar que
devemos a esta época algo raro até então, uma obra de grande valor até os dias atuais, pois é datado de 1840 o primeiro livro sobre culinária, “O cozinheiro imperial”, que é um apanhado das receitas da corte, sendo o ponto inicial para se fazer nascer uma cozinha brasileira (WÄTZOLD, 2012, p. 158).
Por todos esses motivos, fica evidente a importância que a vinda da família real teve para o país, devido à influência gastronômica e à cultura advinda dessa ação. Portanto, essa vinda influenciou, diretamente, a cultura e os alimentos, e, sem ela, haveria um atraso em diversas áreas sociais do Brasil.
Em 1808, com a vinda da corte para o Brasil, visto que o príncipe regente D. João não tinha condições de enfrentar o exército de Napoleão e fugiu com sua corte para o Brasil, o país sofreu algumas modificações. Com a chegada da corte, alguns aspectos mudaram para melhor, dentre eles, é possível citar:
o fim da escravidão e a maior liberdade para a cultura africana.
Incorreta. No Brasil, a escravidão permaneceu com a chegada da corte, logo, a cultura africana continuou tendo limitações e com as mesmas condições que já existiam antes da chegada da família real.
o fim do consumo e do cultivo de milho e mandioca, alimentos característicos da cultura indígena.
Incorreta. O milho e a mandioca, alimentos muito importantes na cultura indígena, continuaram a ser consumidos no Brasil, após a chegada da corte ao Brasil.
o saneamento, a saúde, a arquitetura, a cultura, as artes e novos costumes que influenciaram as práticas alimentares.
Correta. A chegada da corte provocou melhorias em todos os âmbitos sociais, como saneamento, saúde, arquitetura, cultura, costumes, gastronomia, artes, dentre outros setores. Isso ocorreu, principalmente, para que a própria corte real se sentisse melhor em terras brasileiras. Ademais, essas mudanças influenciaram as práticas alimentares do período, contribuindo para a evolução da culinária brasileira.
as fartas reuniões e festas que D. Pedro II oferecia, para promover sua socialização.
Incorreta. D. Pedro II oferecia poucos banquetes; ele gostava de comer pouco, rapidamente e sozinho.
o consumo de galinhas pelos escravos, o que era uma prática comum na cultura africana.
Incorreta. Mesmo com a chegada da corte, os escravos não tinham o costume de comer carne de aves, pois apenas os nobres consumiam esse tipo de carne.
No Brasil, a imigração teve início por volta de 1530, com a vinda de muitos portugueses para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Em 1818, houve um aumento da imigração, com a chegada de mais pessoas de outras nações, durante a regência de D. João VI. Nesse sentido, a imigração foi essencial para o desenvolvimento do Brasil no século XIX.
Em busca de emprego e de uma nova vida, chegaram suíços, alemães (que se instalaram mais no sul do Brasil), eslavos, italianos e árabes, mas a maior parte era de portugueses que vieram em grande número antes, durante e após o período da independência. Após a abolição da escravatura, o governo percebeu a necessidade de estimular a entrada de imigrantes da Europa, a fim de que essa mão de obra substituísse a escrava. Por exemplo, por volta de 1908, a imigração japonesa começou a chegar ao Brasil, buscando trabalho nas fazendas de café.
Desde o descobrimento, o país sofreu influência francesa, mas, com a chegada da corte, essa influência aumentou. Também, a chegada de imigrantes italianos, ingleses e alemães proporcionou novos hábitos alimentares, como o consumo de massas, salames, azeite e queijos. Devido à diferença em relação aos costumes de quem já residia no Brasil, muitos brasileiros tiveram dificuldades para se adaptar, mesmo os que tinham melhores condições de vida.
Segundo Souza (2008, p. 70),
a nova avenida e suas lojas de artigos importados, seus cafés e restaurantes e, principalmente, seu charme, trouxeram os ares da Europa para o tropical Rio de Janeiro, o novo boulevard sem dúvida; era o emblema dos novos tempos, palco perfeito para as novas práticas nele encenadas.
Esse cenário de influências dos imigrantes e as mudanças que estavam acontecendo no período em questão, de acordo com Algranti (2016, p. 25),
[…] deixam entrever a importância da alimentação como fator de identidade dos indivíduos e nos ajudam a perceber que o gosto ou o paladar é também uma construção cultural. Isto é, um produto social que advém de uma vivência coletiva, e que sofre transformações ao longo do tempo por meio do contato com novos produtos e novos alimentos.
Com o fim do império, desenhou-se uma nova linha do que seria a alimentação, devido aos novos imigrantes, a seus hábitos e costumes. Os imigrantes iniciaram diversas atividades agrícolas, nos ramos do comércio, dentre outras. Conforme expõem Diniz et al. (2018), com a chegada de novos povos ao Brasil, em busca de melhores condições de vida, o país transformou-se em uma grande corrente empreendedora e remodelou a conjuntura da cultura alimentar existente, promovendo, assim, uma nova cozinha brasileira (Figura 1.18).

A partir dessas contribuições dos processos migratórios, a diversidade de produtos era enorme, o que impactava o mercado local, os hábitos de consumo, a mistura de sabores, enfim, a construção de uma nova identidade, por meio de formas, cheiros, sabores e consumo de novos alimentos. Nessa esteira, misturaram-se ao paladar brasileiro produtos como: presuntos e queijos de diversos tipos, conservas, whisky, mostardas, molhos, biscoitos, salmão, farinha de aveia, vinhos, ostras, batatas, cebolas, frutas (uva, pera, figo, maçã, tâmara, etc.), arroz, bacalhau, óleo, azeites, azeitonas, nozes, castanhas, manteigas, champanhe, arenque, sardinhas, alhos, carnes, aspargos, cevada, dentre outros alimentos de uma lista enorme.
A cozinha italiana fundiu-se com a cozinha brasileira, por meio de trocas simplificadas, feitas pelas pessoas que se estabeleceram nas regiões onde se cultivava o café, no interior paulista. Com as riquezas adquiridas por meio do ouro verde, o café, famílias enriqueceram e começaram a frequentar lugares mais sofisticados, da moda e a refinar seus hábitos alimentares. Assim, restaurantes, cafés, confeitarias e casas de chá passaram a oferecer banquetes, champanhe e mesas cheias com o que havia de melhor na época.
Mas a comida do dia a dia ainda era a adquirida pelos colonos e introduzida na alimentação, muito simples e feita pelas cozinheiras e serviçais. No almoço, comia-se, por exemplo, frango ensopado, cuscuz e virado à paulista. Na ceia, à luz do lampião de querosene, havia caldos e sopas. No café da manhã ou da tarde, não faltavam o bolo de fubá com erva-doce, o pão de queijo, a geleia de laranja-cavalo azeda e os sequilhos (FREIXA; CHAVES, 2012, p. 203).
Assim, ressalta-se a influência dos imigrantes sobre a forma cultura gastronômica brasileira. É possível encontrar, com facilidade, uma gama de produtos de todos os povos que aqui se instalaram. Devido à necessidade desses povos de relembrarem sua terra, algumas adaptações foram feitas e receitas foram criadas, fazendo a gastronomia evoluir bastante e cada vez mais.
A culinária brasileira é formada por uma miscigenação que marcou a evolução da gastronomia do país. A chegada da corte ao Brasil foi um acontecimento que estruturou a construção da história e da culinária brasileiras. Para saber mais acerca das influências portuguesas sobre a culinária do Brasil, leia o texto “A influência portuguesa em nossa cultura”, que está disponível, integralmente, no link: <https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2018/03/06/a-influencia-portuguesa-em-nossa-cultura/>. Acesso em: 05 dez. 2019.

A imigração no Brasil teve início por volta de 1530, com a vinda de muitos portugueses para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar. Em 1818, houve um aumento da imigração, com a chegada de pessoas de outras nações, durante a regência de D. João VI. Assim, a chegada de imigrantes italianos, ingleses e alemães proporcionou novos hábitos alimentares, como:
o consumo de massas, salames, azeite e queijo.
Correta. Itens como massas, salames, azeite e queijo chegaram ao Brasil como novidades, por meio de imigrantes italianos, ingleses e alemães, e estão na culinária brasileira até hoje.
o fim do consumo de milho na culinária local.
Incorreta. Ingredientes como a mandioca e o milho já eram comuns no Brasil, pois faziam parte da cultura indígena, e, mesmo com a chegada de novos povos, esses alimentos continuaram tendo grande consumo no país.
o uso do azeite de dendê, que era muito importante na cultura italiana.
Incorreta. O azeite de dendê era um ingrediente comum na cultura africana e é muito utilizado até hoje no Brasil, especialmente na região norte do país.
o consumo de feijoada.
Incorreta. A feijoada é um prato elaborado e modificado pela cultura africana, que utilizou sua criatividade para desenvolver o sabor característico desse prato.
a criação e o consumo de carne de vaca, de vitela e de carneiro.
Incorreta. Produtos como a carne de vaca, vitela e carneiro, dentre outros são itens trazidos para o Brasil pela Corte Portuguesa, que influenciou e inseriu tais hábitos na culinária local.
Editora: Pioneira.
Autor: Roberto Pinto.
ISBN: 10:8567362199.
Comentário: Esse livro é um apanhado sobre a gastronomia no Brasil e apresenta as transformações da cozinha brasileira nas últimas quatro décadas, como a valorização de produtos regionais e dos profissionais da área. A leitura desse livro contribui, ainda mais, com os conhecimentos adquiridos nessa área.
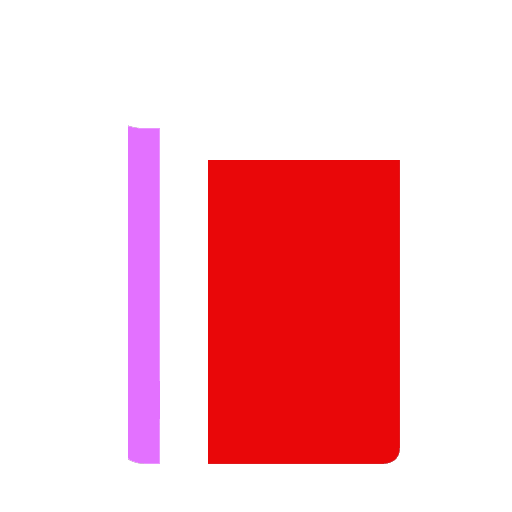
Editora: Senac São Paulo.
Autor: Dolores Freixa e Guta Chaves.
ISBN-10: 8539612992.
Comentário: Para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a gastronomia e suas vertentes, esse livro esclarece muitos aspectos relacionados à gastronomia atual.
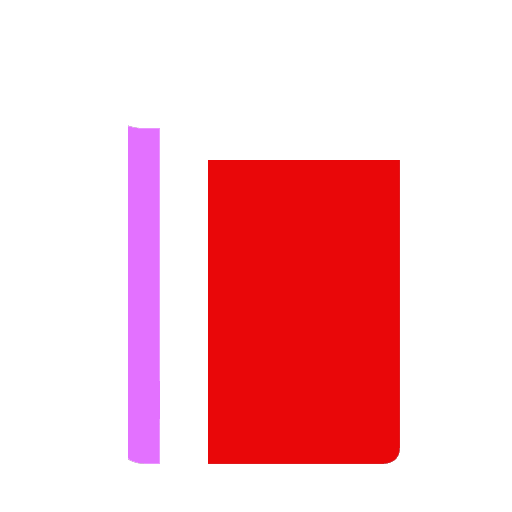
Editora: Três Estrelas.
Autor: Carlos Alberto Dória.
ISBN-10: 8565339270.
Comentário: Uma surpreendente história do Brasil à mesa emerge dos ensaios, que propiciam, tanto ao especialista como ao leigo, uma nova visão sobre os ingredientes, as técnicas culinárias e os processos sociais que levaram à criação dos hábitos alimentares e pratos nacionais.
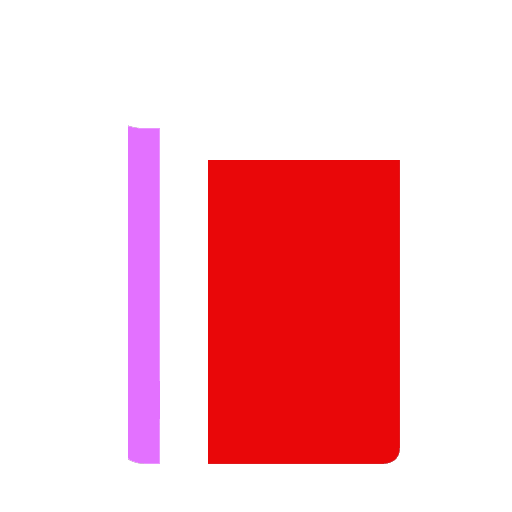
Gênero: Documentário.
Ano: 2013.
Elenco principal: Emmanuel Bassoleil, Erick Jacquin, Laurent Suaudeau, Alain Uzan, Frédéric Monnier e Roland Villard.
Comentário: Esse é um documentário brasileiro, de 2013, dirigido por Eric Belhassen. O filme acompanha a vida de cinco chefs da culinária francesa que residem no Brasil, com base em suas histórias familiares.
