Nesta unidade de aprendizagem, estudaremos sobre os sujeitos integrantes de um processo judicial. Sendo assim, no primeiro tópico, veremos quem são as partes envolvidas em uma Ação, analisando a capacidade destas para estar em juízo, verificando quais são os direitos e as obrigações a elas inerentes. Entenderemos, ainda, quem são os procuradores particulares e públicos, compreendendo suas responsabilidades. No segundo tópico, analisaremos as formas de litisconsórcio e as possibilidades de intervenção de terceiros ao longo do processo. No terceiro tópico, falaremos sobre a função do juiz, entendendo seu papel de apreciador e julgador da causa. No quarto tópico, conheceremos os aspectos que envolvem o Ministério Público, a Defensoria Pública e os auxiliares de justiça. Bons estudos!
Neste primeiro tópico, compreenderemos os direitos e os deveres das partes que participam de uma Ação judicial. Porém, antes disso, precisamos definir quem são as partes e ressaltar suas características. Entenda:
Utilizamos a nomenclatura autor e réu quando estamos diante de um caso de jurisdição contenciosa, em que há conflito de interesses entre as partes. No entanto, em se tratando de jurisdição voluntária, em que não há um litígio a ser dirimido, desejando as partes apenas a homologação de suas vontades, chamamos esses sujeitos de requerentes.
Nesta unidade de aprendizagem, estamos estudando sobre os sujeitos que fazem parte da marcha processual, ou seja, aqueles que estão diretamente envolvidos na discussão do objeto da Ação. Entre estes, temos o juiz, o autor e o réu (ou interessados), o Ministério Público e os procuradores particulares ou públicos, os quais têm, entre si, uma característica comum, que é a formação em Direito. Você sabia que o primeiro curso de Direito foi implementado no Brasil em 1827? Fique por dentro de como foi instituído o primeiro curso de Direito na história do Brasil: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM.-11-08-1827.htm. Acesso em: 11 ago. 2020.

Segundo o Art. 6º do CPC (BRASIL, 2015), pelo bom andamento do processo, os sujeitos que dele participam devem cooperar entre si, sendo-lhes assegurados o mesmo tratamento e a mesma oportunidade de manifestação, de acordo com o Art. 7º do CPC (BRASIL, 2015). Do Art. 77 ao 80 (BRASIL, 2015), o CPC nos mostra os deveres das partes e de seus procuradores. Veja o que diz o Art. 77:
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (BRASIL, 2015, on-line).
É necessário dizer que, se uma das partes vier a falecer no curso do processo, habilitam-se, nos autos processuais, seus herdeiros, de acordo com o Art. 110 do Código Civil (CC) (BRASIL, 2002) e os Arts. 687 a 692 do CPC (BRASIL, 2015), ocorrendo, então, o fenômeno da substituição ou sucessão processual.
De acordo com o que estabelece o Art. 1º do CC, “toda pessoa física é capaz de direitos e deveres na ordem civil” (BRASIL, 2002, on-line). Corroborando esse preceito, os Arts. 70 a 72 do CPC (BRASIL, 2015) disciplinam que têm capacidade processual, ou seja, capacidade para ser parte, aqueles que estejam no gozo de seus direitos civis.
Apesar de a personalidade civil ser adquirida a partir do nascimento com vida, a capacidade para exercer, pessoalmente e sem assistência, atos da vida civil só é adquirida aos 18 anos de idade, podendo, entretanto, esse tempo ser reduzido para 16 anos, no caso de emancipação, casamento, estabelecimento civil ou comercial, diplomação em curso de nível superior, investidura permanente em cargo público ou vínculo empregatício que torne o indivíduo independente financeiramente, segundo o Art. 5º do CC (BRASIL, 2002).
As pessoas menores de 16 anos de idade, na qualidade de absolutamente incapazes, devem ser representadas em juízo, enquanto as maiores de 16 e menores de 18 anos, por serem relativamente incapazes, deverão ser assistidas, assim como ocorre com as demais classes de pessoas que se encontram elencadas no Art. 4º do CC (BRASIL, 2002).
Agora, compreenda a diferença entre assistência e representação por meio das palavras de Saraiva e Linhares (2018, p. 252):
No que atine à assistência judicial dos relativamente incapazes, a grande diferença para a representação consiste no fato de que na assistência (ao contrário da representação) o assistente apenas supre a deficiência da declaração de vontade do assistido, sem substituí-la. Em outras palavras, não cabe ao assistente fazer acordo em nome do assistido, mas simplesmente ratificar ou não a declaração de vontade deste.
Entendemos, então, que o representante pleiteia por direitos inerentes ao representado, passando a agir, em juízo, em nome da parte; enquanto o assistente age apenas auxiliando e ratificando as ações do assistido durante o período em que durar sua incapacidade, a fim de que os atos por ele praticados não sejam considerados nulos.
A representação pode ser legal (determinada por lei) ou advir de um instrumento de mandato (procuração), pelo qual a parte pode conceder poderes a outrem para que aja em seu nome, como ocorre com a constituição dos advogados, para atuarem nos autos processuais na defesa do interesse das partes, de acordo com os Arts. 653 a 692 do CC (BRASIL, 2002). A representação processual por meio de um advogado é necessária para suprir a incapacidade postulatória que, em regra, as partes não têm (com exceção de quem advoga em causa própria). A capacidade postulatória é um dos pressupostos processuais de validade, a qual só pode ser suprida com o auxílio de um advogado.
Corroborando o Art. 133 da Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988), o Art. 2º do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) expressa o seguinte:
O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. (BRASIL, 1994, on-line).
Para suprir a capacidade postulatória, os cidadãos, ao ingressarem em juízo, devem ser representados, nos autos processuais, por advogados particulares ou pela Defensoria Pública, sendo esta detentora da gratuidade de Justiça, de acordo com os Arts. 98 a 192 e os Arts. 185 a 187 do CPC (BRASIL, 2015). Quando as partes forem a União (Advocacia Geral da União – AGU), os estados, os municípios, o Distrito Federal ou as autarquias e as fundações do Distrito Federal, cabe à Advocacia Pública, segundo o Art. 131 da CF (BRASIL, 1988), a defesa dos interesses das partes em qualquer grau de jurisdição, ressaltando, ainda, que estas têm prazo em dobro para manifestação. Essa regra, no entanto, comporta exceções:
[...] a lei pode, em situações excepcionais, afastar a obrigatoriedade de assistência advocatícia, como ocorre no caso da impetração de habeas corpus, na revisão criminal e no acesso à Justiça do Trabalho, hipóteses em que a postulação em juízo independe de subscrição de advogado. Registre-se, também, que a Lei 10.259/2001, instituidora dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 10, estabelece que "as partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não" (PAULO; ALEXANDRINO, 2017, p. 752).
No que diz respeito ao advogado, falecendo este, a parte precisa nomear outro para que atue em seu favor, exceto se, na procuração (instrumento de mandato), existirem outros advogados constituídos com os mesmos poderes para atuar nos autos.
O Código Civil menciona, em seu Art. 1º, que: "Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” e, no Art. 2º, que: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro" (BRASIL, 2002, on-line).
No que se refere aos processos judiciais, a capacidade é um dos requisitos que os indivíduos precisam preencher para figurar em um processo judicial, pois, se assim não for, precisarão contar com os institutos da assistência e da representação. Quanto à capacidade de ser parte, assinale a alternativa correta.
Os absolutamente incapazes não podem ingressar com Ação Judicial.
Incorreta. Porque todas as pessoas podem ingressar com uma Ação Judicial. Entretanto, aqueles que, legalmente, são tidos como absolutamente incapazes deverão ser representados em juízo, para que seus atos sejam considerados válidos.
Os maiores de 16 e menores de 18 anos devem ser assistidos em processo judicial.
Correta. Porque os maiores de 16 e menores de 18 anos são considerados relativamente incapazes e, por isso, precisam ser assistidos em juízo até que completem a maioridade.
Os maiores de 14 e menores de 16 anos devem ser assistidos em processo judicial.
Incorreta. Porque os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes e, por isso, precisam ser representados em juízo, e não assistidos, como os relativamente incapazes.
A incapacidade transitória de ser parte pode ser suprida com a constituição de um advogado.
Incorreta. Porque a capacidade postulatória do advogado não serve para sanar a incapacidade transitória de ser parte, devendo esta ser suprida por meio da assistência, até que termine a incapacidade.
Os ébrios deverão ser representados em juízo enquanto forem considerados incapazes.
Incorreta. Porque os ébrios são considerados relativamente incapazes e, por isso, devem ser assistidos em juízo enquanto a incapacidade durar, e não representados, como é o caso dos absolutamente incapazes.
No tópico anterior, estudamos sobre as partes e seus procuradores, entendendo quem são esses sujeitos e compreendendo seus papéis dentro de um processo judicial. Agora, neste segundo tópico de nossa unidade de aprendizagem, verificaremos que pode existir mais de uma pessoa figurando no polo ativo da Ação, situação em que estaremos diante de um litisconsórcio ativo.

Da mesma forma, caso mais de uma pessoa tenha o polo passivo do processo, estaremos diante de um litisconsórcio passivo. Pode ocorrer, ainda, a possibilidade de um litisconsórcio misto, hipótese em que há pluralidade de pessoas tanto no polo ativo quanto no passivo. Humberto Theodoro Júnior também aponta a existência do litisconsórcio incidental, que surge após a propositura da Ação:
É também incidental o que decorre de ordem do juiz, na fase de saneamento, para que sejam citados os litisconsortes necessários não arrolados pelo autor na inicial (NCPC, art. 115, parágrafo único).3 Ou quando terceiro, em situação material semelhante à do autor, pretenda inserção no processo em andamento ao lado da parte primitiva, adicionando pretensão própria E, ainda, o que surge quando, na denunciação da lide, o terceiro denunciado comparece em juízo e se integra na relação processual ao lado do denunciante (NCPC, art. 127) (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 522).
Atenção! Existindo litisconsórcio, é concedido prazo em dobro para manifestação em autos processuais físicos, conforme o Art. 229 do CPC (BRASIL, 2015). O Art. 113 do CPC (BRASIL, 2015) diz que haverá litisconsórcio diante da:
O CPC aponta quatro tipos de litisconsórcio, os quais relacionamos no quadro a seguir, para facilitar sua compreensão, visualização e memorização:
Quadro 1.1 - Tipos de litisconsórcio
Fonte: Adaptado de Brasil (2015, on-line).
No curso de um processo, podem surgir, também, outros indivíduos que vão interferir em seu desenvolvimento – isso é nomeado, pela doutrina, como intervenção de terceiros. O CPC discrimina as seguintes formas de intervenção de terceiros:
Vale ressaltar que cabe ao juiz reconhecer a intervenção de terceiros, julgando-a pertinente ou não. Contudo, diante da admissão ou da inadmissão da intervenção, caberá o recurso de agravo de instrumento, que poderá ser interposto pela parte que se sentir prejudicada, conforme aponta o Art. 1.015, IX do CPC (BRASIL, 2015).
No que se refere ao número de integrantes figurando no polo de uma Ação, sabemos que existe o litisconsórcio ativo, passivo e misto. Já em relação aos tipos de litisconsórcio admitidos pela legislação processual civil, temos o litisconsórcio necessário, facultativo, unitário e simples. Quanto ao prazo concedido aos indivíduos integrantes de um litisconsórcio para a prática de atos nos autos processuais, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta, de acordo com o que estudamos nesta unidade de aprendizagem.
Os litisconsortes têm prazo em dobro para se manifestarem nos autos físicos caso tenham patronos diferentes.
Correta. Porque, de acordo com o Art. 229 do CPC (BRASIL, 2015), quando tiverem procuradores diferentes, os litisconsortes receberão prazo em dobro para manifestação. Contudo, esse benefício não se aplica quando se tratar de autos eletrônicos.
Os litisconsortes têm prazo em dobro para se manifestarem nos autos, ainda que tenham os mesmos procuradores.
Incorreta. Pois o Art. 229 do CPC (BRASIL, 2015) deixa claro que será concedido o prazo em dobro para manifestação apenas quando os litisconsortes tiverem procuradores diferentes e caso o processo não seja eletrônico.
Os litisconsortes têm prazo limitado de acordo com a quantidade de litisconsortes que existirem no polo da Ação.
Incorreta. Porque, independente da quantidade de litigantes que possam integrar o polo de um processo judicial, a legislação é clara em estabelecer a prorrogação apenas em dobro e quando se tratar de autos físicos.
Os litisconsortes têm prazo igual ao estabelecido para o polo não litisconsorcial para se manifestarem nos autos processuais.
Incorreta. Pois a legislação processual civil oferece, de forma razoável, o benefício de os litisconsortes com mais de um advogado terem o prazo duplicado para a prática de atos em autos que não sejam eletrônicos.
Os litisconsortes têm prazo limitado de 30 dias para qualquer manifestação nos autos processuais eletrônicos.
Incorreta. Pois, em se tratando de processo eletrônico, mesmo existindo litisconsórcio, o prazo não será diferenciado, conforme aponta o Art. 229 § 2º do CPC (BRASIL, 2015).
Quando um cidadão se sente lesado ou quando pretende obter o reconhecimento de um direito, ele leva sua questão à apreciação de um órgão jurisdicional que compõe o Poder Judiciário, o qual, investido de jurisdição, prestará, em nome do Estado, a tutela buscada pelas partes, por meio de um juiz, que tem o poder/dever de decisão.

Os juízes têm seus atos nomeados como "pronunciamentos", podendo estes se expressarem em forma de sentenças, acórdãos, decisões interlocutórias e despachos, conforme Art. 203 do CPC (BRASIL, 2015):
Quadro 1.2 - Pronunciamentos
Fonte: Elaborado pela autora.
O juiz não é parte da Ação, mas é o sujeito indispensável à sua apreciação e ao seu julgamento. Uma vez estabelecida a relação entre autor, réu e juiz, surgem obrigações e responsabilidades a serem observadas, de acordo com as normas estipuladas pela legislação pertinente.
Um juiz recebe, em média, uma remuneração de R$ 30.000,00, já os analistas judiciários recebem, em média, R$ 5.000,00, os técnicos R$ 3.000,00 e os auxiliares R$ 1.600,00. Diante da formação acadêmica, do volume de atividades exercidas por cada um desses profissionais e da importância do trabalho por eles desempenhado, você considera justa ou discrepante a diferença salarial entre esses profissionais que atuam em torno dos processos judiciais?
Fonte: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 2019.
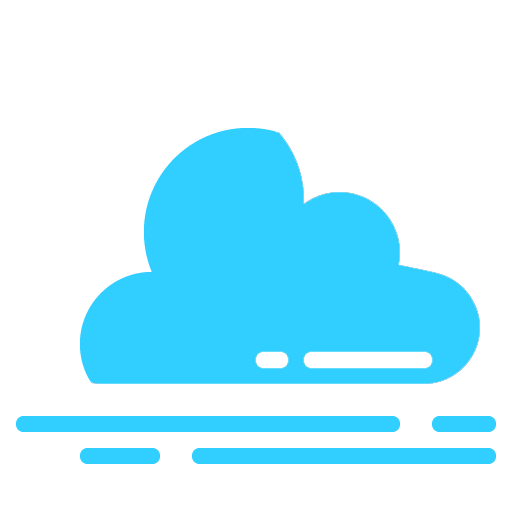
O juiz é aquele que tem o poder de conduzir e decidir sobre o objeto da causa, atuando, sempre, em nome Estado. Nos Arts. 93 a 95 (BRASIL, 1988), a Constituição Federal fala sobre o ingresso na magistratura e as garantias a ele inerentes. A Lei Complementar n. 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional – (BRASIL, 1979) também trata da estrutura do Poder Judiciário e dos direitos e deveres dos magistrados. Além disso, encontramos, no CPC, normas que estabelecem como o magistrado deve se portar na condução de um processo, sendo-lhe dada a liberdade para agir, mas, também, limitando seu poder de ação em alguns momentos. Observe o que menciona o Art. 8º do CPC:
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (BRASIL, 2015, on-line).
O CPC dá ao magistrado a oportunidade de flexibilizar atos, prazos e procedimentos processuais, no intuito de melhor adequá-los ao caso concreto que se está conduzindo naquele momento, conforme o Art. 139, VI do CPC (BRASIL, 2015). O juiz também tem o poder de utilizar medidas coercitivas para dar eficácia às suas decisões, de acordo com os Arts. 139 VII e 360 do CPC (BRASIL, 2015).
O Art. 139 do CPC (BRASIL, 2015) se destina a enumerar os poderes, os deveres e as responsabilidades dos juízes em um processo judicial. Sendo assim, na condução e no julgamento dos processos, os magistrados têm o dever e o poder de:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
II - velar pela duração razoável do processo;
III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;
VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;
VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;
VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso;
IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível [...] (BRASIL, 2015, on-line).
Constatamos, então, que o ordenamento jurídico brasileiro impõe ao juiz o dever de lidar com as partes de forma imparcial, buscando decidir a questão a ele levada de forma rápida e incentivando a autocomposição entre as partes, já que essa é a forma mais eficaz de as partes se satisfazerem em suas pretensões, pois uma sentença, por vezes, desagrada tanto ao autor quanto ao réu, enquanto um acordo pode ser bem mais satisfatório, cedendo cada um da forma que pareça menos prejudicial.
O Art. 16 do CPC explicita que: "A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional [...]" (BRASIL, 2015, on-line). Eles apreciam e julgam a demanda e, também, conduzem o processo em busca da formação de seu convencimento, adotando, para isso, as medidas disponíveis na legislação, rumo à prolação de uma sentença justa. Por esse motivo, todas as provas e as diligências têm o magistrado como destinatário.
O juiz atua em nome do Estado, logo, não deve agir de acordo com suas preferências pessoais, mas, sim, em busca do interesse do Estado, que é o de prestar a tutela jurisdicional à sociedade. Do Art. 144 ao 148 do CPC (BRASIL, 2015), encontramos os casos em que o juiz recai em suspeição ou impedimento. O Art. 144 mostra que o magistrado está impedido (proibido) de atuar no processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado (BRASIL, 2015, on-line).
No impedimento, a parcialidade é explícita, enquanto a suspeição é menos perceptível. O impedimento é considerado mais grave, ensejando, até mesmo, Ação rescisória, conforme o Art. 966 II do CPC (BRASIL, 2015), caso se detecte, depois de prolatada a sentença, que esta emanou de um juiz, comprovadamente, impedido. Já o Art. 145 do CPC declara que:
Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (BRASIL, 2015, on-line).
O impedimento e a suspeição do juiz são alegados pelas partes por meio de um incidente processual (incidente de impedimento e suspeição), proposto perante o próprio juízo, que, concordando com as alegações, remeterá os autos a outro juiz, tornando-o competente para apreciar e julgar a causa. Porém, discordando, ele deverá remeter os autos ao Tribunal, para que este decida se realmente se encontra presente o impedimento ou a suspeição. O Art. 147 do CPC (BRASIL, 2015) também traz outra proibição, que se refere ao fato de que, existindo parentesco em linha reta ou colateral até o terceiro grau entre juízes, ficam estes proibidos de atuar no mesmo processo.
Os membros do Ministério Público, os auxiliares de justiça, bem como os demais sujeitos que constam no rol do Art. 149 do CPC (BRASIL, 2015), também estão sujeitos a incorrer em causas de impedimento ou suspeição.
Aos juízes é vedado o exercício de algumas atividades a fim de não comprometer a função que exercem em nome do Estado, conforme nos explica Moraes (2017, p. 369):
Aos juízes é vedado: exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
Percebemos, então, que a legislação processual civil se preocupa em regulamentar as ações não apenas de autor, réu e auxiliares de justiça, mas, também, de juízes, que apesar de terem poderes e garantias concedidos pelo Estado, devem prestar um serviço eficiente à população brasileira dentro dos limites de suas atribuições.
Vimos que o juiz deve ser imparcial ao apreciar e julgar uma questão que é levada à sua apreciação pela parte. Então, caso a parte detecte que está caracterizada a imparcialidade do magistrado, deverá interpor incidente de impedimento ou suspeição, com o intuito de sanar o vício. Sendo assim, assinale a alternativa que traz, corretamente, uma das causas que leva um juiz a incorrer em suspeição.
Ter proferido, em outro grau de jurisdição, decisão no processo.
Incorreta. Porque essa é uma das causas em que o juiz pode incorrer em impedimento, e não em suspeição, conforme mostra o Art. 144, II do CPC (BRASIL, 2015).
Ser sócio de uma das partes do processo.
Incorreta. Porque o Art. 144, V do CPC, diz que incorre em impedimento, e não em suspeição, o juiz que “[...] for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo” (BRASIL, 2015, on-line).
Ser cônjuge de uma das partes do processo.
Incorreta. Porque o Inciso IV do Art. 144 do CPC (BRASIL, 2015) estabelece que o juiz está impedido de atuar em qualquer processo em que seja parte seu cônjuge ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Ser amigo íntimo de uma das partes do processo.
Correta. Porque os casos de suspeição estão discriminados no Art. 145 do CPC (BRASIL, 2015), constando, no Inciso I, que incorre em suspeição o juiz que for amigo íntimo de uma das partes que compõe o processo, o qual o magistrado deve julgar.
Ser empregador de uma das partes do processo.
Incorreta. Porque se mostra como uma das causas de impedimento, e não de suspeição, a atuação de um juiz quando este for herdeiro, donatário ou empregador de uma das partes do processo em que deva apreciar e julgar a causa, conforme o Art. 144, VI do CPC (BRASIL, 2015).
A Constituição Federal estabelece, em seu Art. 33 § 3º (BRASIL, 1988), que os territórios que têm mais de cem mil habitantes contarão com órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo grau (instância), devendo estes terem a cooperação do Ministério Público e da Defensoria Pública na mesma localidade, pois, apesar de estes não fazerem parte da estrutura organizacional do Poder Judiciário, fazem-se essenciais à justiça.

De acordo com o Art. 48, IX da CF (BRASIL, 1988), cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a organização administrativa e judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública, sendo de competência da União legislar e garantir o funcionamento destes, conforme os Arts. 21, XII e 22, XVII da CF (BRASIL, 1988). Deve vir do Presidente da República a iniciativa de lei que vise regulamentar sua atuação, segundo o Art. 61 § 1º ´d´ da CF (BRASIL, 1988).
Ao Ministério Público (MP) cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses individuais e coletivos indisponíveis, de acordo com o Art. 217 da CF (BRASIL, 1988). O MP tem autonomia administrativa e funcional, atuando junto aos juízes e aos defensores públicos, sem ser hierarquicamente superior ou inferior a eles, existindo uma cooperação em busca dos interesses do Estado, em sua função de prestação jurisdicional aos cidadãos brasileiros.
Quer saber como está organizado e estruturado o MP? Então, acesse a página do Conselho Nacional do Ministério Público e visualize o organograma que mostra a estrutura organizacional desse órgão. Nesta página, você encontrará, ainda, links que te mostrarão a composição, os atos e as normas que regulamentam o MP, além de relatórios periódicos de sua atuação.
Fique por dentro consultando o link: http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/estrutura-organizacional. Acesso em: 11 ago. 2020.

O MP atua no âmbito da União (Ministério Público Federal – MPF, Ministério Público Militar – MPM e Ministério Público do Trabalho – MPT) dos estados-membros (Ministério Público Estadual) e do Distrito Federal. Vale esclarecer que o Ministério Público Estadual atua, também, nos municípios que compõem aquele estado.
O Art. 129 da Constituição Federal enumera as principais funções do MP, a saber:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (BRASIL, 1988, on-line).
O MP é, ainda, responsável por denunciar autoridades que venham a cometer crimes funcionais, devendo instaurar inquérito civil, requerer investigação e demandar Ação Civil Pública (ACP) em casos de improbidade administrativa. Compete a esse órgão, também, a proteção dos direitos coletivos e difusos, devendo fiscalizar e corrigir atos emanados da Administração Pública.
O Estatuto do estrangeiro prevê, ainda, uma função aos órgãos do Ministério Público, que deverão remeter ao Ministério da Justiça, de ofício, até 30 dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença condenatória de estrangeiro autor de crime doloso ou de qualquer crime contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a economia popular, a moralidade ou a saúde pública, assim como cópia da folha de antecedentes penais constantes dos autos, para instauração de procedimento administrativo no âmbito daquele Ministério e análise de eventual expulsão (MORAES, 2017, p. 83).
O CPC, nos Arts. 180 e 186 (BRASIL, 2015), concede ao MP e à Defensoria Pública prazo em dobro para se manifestarem nos autos processuais. Encontramos, habitualmente, o MP em processos que tenham, como parte, pessoa incapaz (por exemplo, pessoas menores de 16 anos). A imagem que introduz este tópico demonstra bem como o membro do MP, na maioria das audiências, encontra-se sentado ao lado do juiz, na posição de fiscal da lei.
A Defensoria Pública atua no âmbito federal, ou seja, da União, que compreende a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, os Tribunais Superiores e as instâncias administrativas da União. Atuando, ainda, no âmbito estadual, envolvendo os Tribunais de Justiça de cada unidade federativa do Brasil.
A Constituição Federal previu, ainda, a criação, instalação e funcionamento da Defensoria Pública, como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal, inclusive possuindo legitimidade para propor ação civil pública, na defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Para o exercício de suas importantes atribuições processuais, o STF entende pela necessidade de intimação pessoal do Defensor Público (MORAES, 2017, p. 441).
Atualmente, pode usufruir dos serviços prestados pela Defensoria Pública o indivíduo que tenha renda familiar de até três salários mínimos, podendo esse limite chegar a quatro salários quando a família for composta de seis membros ou mais. Essa regra também será flexibilizada se for comprovado, que, mesmo não se enquadrando nesses moldes, a parte tem despesas médicas que comprometem a maior porcentagem de seus vencimentos, o que será analisado mediante cada caso concreto.
Ao procurar a Defensoria Pública, a pessoa deve apresentar, para análise, seus comprovantes de renda, preenchendo, também, uma declaração de hipossuficiência, como a que apresentamos no modelo a seguir:
Quadro 1.3 - Declaração de hipossuficiência
Fonte: Brasil (on-line).
Verificamos a presença da Defensoria Pública nos processos judiciais quando a parte for detentora de gratuidade de justiça, ou seja, tendo ela comprovado que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios (pagos ao advogado particular). Nas audiências, o membro da Defensoria Pública se senta ao lado da parte, assim como os advogados particulares ou procuradores (advogados públicos).
O Art. 149 do CPC relaciona as pessoas que são consideradas como auxiliares de justiça, sendo elas "[...] o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias" (BRASIL, 2015, on-line).
Entre esses auxiliares, temos os serventuários, que são funcionários públicos que atuam no Poder Judiciário (escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça etc.), sendo estes os responsáveis por dar andamento aos autos processuais, organizando-os, validando a juntada de documentos, levando os requerimentos das partes para análise do juiz, digitando mandados de pagamentos e ofícios, dentre outros atos. Os técnicos e os auxiliares judiciários, geralmente, são os que recebem as partes no balcão e praticam a maior parte dos atos ordinatórios, conforme o § 4º do Art. 203 do CPC (BRASIL, 2015), sob a supervisão do escrivão ou do chefe de secretaria, segundo o Art. 152 do CPC (BRASIL, 2015).
Os auxiliares de justiça estatutários trabalham na tramitação processual, cuidando da parte burocrática, sem analisar o mérito ou tomar decisões. Eles sinalizam situações, cabendo ao juiz deferir ou indeferir pedidos ou, ainda, determinar diligências.
Por outro lado, os auxiliares de justiça que não são funcionários públicos, atuam em nome do Estado, exercendo sua função em um ou mais processos, cooperando para o desenvolvimento destes, sem, contudo, pertencer ao Poder Judiciário.
Conforme vimos neste tópico de nossa unidade de aprendizagem, o Ministério Público e a Defensoria Pública são órgãos que cooperam com o Poder Judiciário, sem fazer parte de sua estrutura organizacional. Sabendo disso, analise as afirmativas a seguir.
I. A Defensoria Pública tem prazo em quádruplo para praticar atos processuais.
II. O Ministério Público tem prazo em dobro para praticar atos processuais.
III. O Ministério Público e a Defensoria Pública têm prazo especial apenas para se manifestarem em autos físicos.
IV. O promotor e o defensor não são hierarquicamente inferiores aos magistrados.
É correto o que se afirma sobre a veracidade e a falsidade das afirmativas acima:
I, apenas.
Incorreta. Porque a afirmativa I é falsa, pois, conforme estipula o Art. 186 do CPC (BRASIL, 2015), a Defensoria Pública tem prazo em dobro para a prática de atos processuais; a afirmativa II é verdadeira, porque, de acordo com o Art. 180 do CPC (BRASIL, 2015), o prazo do Ministério Público, assim como o da Defensoria e da Advocacia Pública, é concedido em dobro; a afirmativa III é falsa, pois o prazo em dobro para manifestação nos autos processuais é concedido tanto em autos físicos como em eletrônicos; a afirmativa IV é verdadeira, porque os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, assim como os procuradores, não são hierarquicamente inferiores aos juízes.
II, apenas.
Incorreta. Porque a afirmativa I é falsa, pois, conforme estipula o Art. 186 do CPC (BRASIL, 2015), a Defensoria Pública tem prazo em dobro para a prática de atos processuais; a afirmativa II é verdadeira, porque, de acordo com o Art. 180 do CPC (BRASIL, 2015), o prazo do Ministério Público, assim como o da Defensoria e da Advocacia Pública, é concedido em dobro; a afirmativa III é falsa, pois o prazo em dobro para manifestação nos autos processuais é concedido tanto em autos físicos como em eletrônicos; a afirmativa IV é verdadeira, porque os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, assim como os procuradores, não são hierarquicamente inferiores aos juízes.
I e II, apenas.
Incorreta. Porque a afirmativa I é falsa, pois, conforme estipula o Art. 186 do CPC (BRASIL, 2015), a Defensoria Pública tem prazo em dobro para a prática de atos processuais; a afirmativa II é verdadeira, porque, de acordo com o Art. 180 do CPC (BRASIL, 2015), o prazo do Ministério Público, assim como o da Defensoria e da Advocacia Pública, é concedido em dobro; a afirmativa III é falsa, pois o prazo em dobro para manifestação nos autos processuais é concedido tanto em autos físicos como em eletrônicos; a afirmativa IV é verdadeira, porque os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, assim como os procuradores, não são hierarquicamente inferiores aos juízes.
III e IV, apenas.
Incorreta. Porque a afirmativa I é falsa, pois, conforme estipula o Art. 186 do CPC (BRASIL, 2015), a Defensoria Pública tem prazo em dobro para a prática de atos processuais; a afirmativa II é verdadeira, porque, de acordo com o Art. 180 do CPC (BRASIL, 2015), o prazo do Ministério Público, assim como o da Defensoria e da Advocacia Pública, é concedido em dobro; a afirmativa III é falsa, pois o prazo em dobro para manifestação nos autos processuais é concedido tanto em autos físicos como em eletrônicos; a afirmativa IV é verdadeira, porque os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, assim como os procuradores, não são hierarquicamente inferiores aos juízes.
II e IV, apenas.
Correta. Porque a afirmativa I é falsa, pois, conforme estipula o Art. 186 do CPC (BRASIL, 2015), a Defensoria Pública tem prazo em dobro para a prática de atos processuais; a afirmativa II é verdadeira, porque, de acordo com o Art. 180 do CPC (BRASIL, 2015), o prazo do Ministério Público, assim como o da Defensoria e da Advocacia Pública, é concedido em dobro; a afirmativa III é falsa, pois o prazo em dobro para manifestação nos autos processuais é concedido tanto em autos físicos como em eletrônicos; a afirmativa IV é verdadeira, porque os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, assim como os procuradores, não são hierarquicamente inferiores aos juízes.
Nome do livro: Novo Código de Processo Civil Anotado
Autor: Escola Superior de Advocacia (ESA)
Editora: Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS)
ISBN: 978-85-62896-01-9
Comentário: Com a leitura desta obra, você poderá entender cada artigo contido no novo Código de Processo Civil, contando com importantes anotações feitas pela OAB/RS, que tornam possível uma total compreensão da legislação processual civil vigente. A leitura é de extrema importância para que você compreenda melhor cada um dos conceitos abordados nesta unidade de aprendizagem. O livro encontra-se disponível em: http://www.oabrs.org.br/novocpcanotado/novo_cpc_anotado_2015.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020.
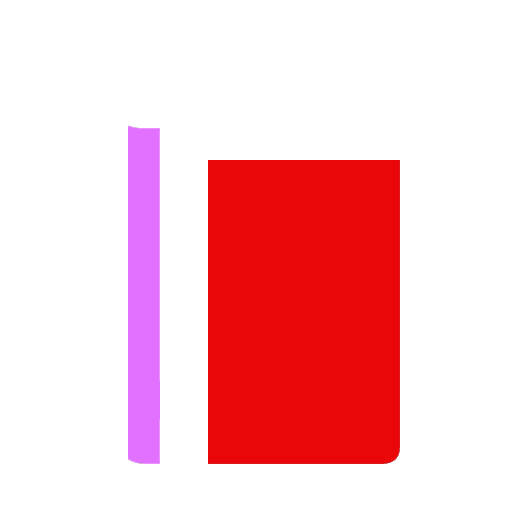
Nome: O papel do Ministério Público e a relação entre justiça e democracia
Ano: 2019
Autor: Observatório do Terceiro Setor na TV
Comentário: Assista ao vídeo para saber o que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, diz sobre o importante papel do Ministério Público na sociedade e como esse órgão entende a relação existente entre justiça e democracia. O vídeo está disponível em: https://observatorio3setor.org.br/carrossel/o-papel-do-ministerio-publico-e-a-relacao-enrte-justica-e-democracia/. Acesso em: 11 ago. 2020.
